Anatolia, Turquia: Seguindo os passos das antigas deusas
- tiffanihr
- 17 de ago. de 2025
- 6 min de leitura
Atualizado: 24 de ago. de 2025
No início da primavera deste ano, empreendi uma jornada pela península da Anatólia em busca de vestígios da veneração do culto ao feminino. Não o feminino entendido como um poder hierárquico dentro de uma sociedade específica, mas sim na tentativa de compreender o que significa, de fato, uma sociedade matriarcal ou matrifocal.
A Anatólia, localizada no atual território da Turquia, possui uma importância geográfica estratégica como ponte entre a Ásia e a Europa, facilitando ao longo da história o intercâmbio de povos, culturas e mercadorias. Como ponto crucial da antiga Rota da Seda, possibilitou o trânsito de produtos valiosos entre o Oriente e o Ocidente. Sua posição central e o controle sobre estreitos vitais, como o Bósforo e os Dardanelos, atraíram a atenção de impérios como os hititas, persas, gregos, romanos, bizantinos e otomanos, consolidando a região como um polo multicultural e comercial por milênios.
Na Antiguidade, especialmente nos períodos pré-helenístico e helenístico, essa região foi marcada por fortes influências culturais que oscilavam entre a devoção ao feminino e a prevalência das estruturas patriarcais.

Antes da consolidação do patriarcado greco-romano, a Anatólia abrigava importantes centros de culto dedicados às divindades femininas. Um dos exemplos mais notáveis foi o Templo de Ártemis, na cidade de Éfeso, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Embora Ártemis seja conhecida, no panteão grego, como a deusa da caça e da virgindade, em Éfeso ela era venerada como uma deusa-mãe, protetora da fertilidade, da natureza e dos ciclos vitais — refletindo tradições mais antigas e profundamente enraizadas de adoração ao feminino. Sua imagem com múltiplos seios simbolizava a abundância e o poder criativo.
Outro exemplo importante é Pérgamo (atual Bergama), que, embora tenha se tornado um centro helenístico e romano, preservou vestígios de cultos mais antigos associados à Grande Mãe. A deusa Cíbele, por exemplo, teve seu culto difundido por toda a Anatólia, especialmente na região da Frígia, onde era reverenciada como a Mãe dos Deuses e símbolo do território fértil e selvagem.
Nesses contextos, as práticas religiosas e as formas de organização social refletiam características matrifocais. A presença dessas deusas em templos monumentais sugere que, por longos períodos, houve um reconhecimento do poder criador do feminino, tanto no plano espiritual quanto no comunitário.
Com a chegada dos gregos e, mais tarde, dos romanos, as estruturas sociais e religiosas passaram por uma transformação significativa. O processo de helenização e romanização trouxe consigo divindades masculinas e uma organização política e social de caráter mais patriarcal.
Durante a era helenística, a Anatólia tornou-se palco da ascensão de deuses guerreiros e deidades masculinas dominantes, à medida que o espírito da terra se deslocava de uma reverência centrada no feminino para uma paisagem na qual o poder divino e político se entrelaçava com o masculino. Pérgamo, outrora tocada pela essência da Grande Mãe, erguia-se então como um santuário vital de Zeus e Asclépio — um testemunho da ordem em transformação, em que a força e a dominação substituíram o cuidado e a criação como ideais sagrados.

Essa transição também refletiu uma reestruturação simbólica: Ártemis, que outrora simbolizava a fertilidade e a proteção da terra, foi reinterpretada em muitos contextos como uma deusa mais distante, associada à virgindade e ao controle dos instintos naturais. A integração do culto de Cíbele ao panteão romano também diluiu seu caráter matrifocal, tornando-a uma figura mais marginal e exótica dentro da cultura dominante.
A ascensão do cristianismo marcou outra transformação profunda: à medida que consolidava sua presença no Império Romano, muitas antigas deusas foram gradualmente absorvidas ou remodeladas nas figuras de santas e mártires cristãs. Essa passagem do culto à Grande Mãe para a veneração da Virgem Maria em certas regiões revela uma reconfiguração sutil, porém poderosa, do sagrado feminino.
Com o surgimento das religiões monoteístas patriarcais, o culto às deusas foi suprimido, reconfigurado ou mesmo demonizado. A mulher deixou de ser sagrada e passou a ser vista como pecadora. O corpo transformou-se em prisão da alma. A sexualidade tornou-se tabu.
Coletivamente, perdemos nossa conexão com os ciclos, com a Terra, com o saber intuitivo que outrora fluía através de sacerdotisas, curandeiras, parteiras e artesãs. O silêncio imposto ao feminino não foi apenas histórico e político — foi espiritual.

Muito antes de as grandes religiões patriarcais moldarem o mundo com seus deuses celestiais e leis lineares, o ventre da Terra era o primeiro templo, e o corpo feminino, o seu reflexo mais sagrado. Durante minha imersão nas montanhas e cavernas da Anatólia, especialmente na deslumbrante Capadócia, contemplei a mudança radical que levou a humanidade de uma era de harmonia com a terra e seus ciclos para uma busca incessante de dominá-la.
O destino do planeta Terra espelha o destino do feminino, e é impressionante testemunhar como essa evolução se desenrola. Da antiga reverência pela natureza — seus rios, florestas e ciclos vitais — passamos ao ímpeto implacável de controle e exploração. Vemos surgir exércitos e novos sistemas de crença que subjugaram o feminino, despojando-o de sua liberdade e de sua sensualidade voluptuosa, outrora celebrada como a fonte da vida em todo o seu esplendor, para recodificá-lo como posse, uma ameaça aos olhos da mentalidade dominadora.
Passamos pelo sítio arqueológico de Çatalhöyük, onde se preservam imagens poderosas: figuras femininas sentadas em tronos ladeadas por felinos, com ventres generosos e seios fartos — símbolos de fertilidade, proteção e abundância. Essas estátuas, datadas de mais de 7 mil anos, não eram simples objetos decorativos. Eram expressões de reverência à Terra como Mãe, ao ciclo da vida e da morte, à força geradora que habita o feminino.
Na ausência de templos, o corpo da mulher era o templo. O útero era o centro sagrado, a ligação entre Céu e Terra, entre o visível e o invisível.
Esse culto à Deusa não era exclusivo da Anatólia. Em outras partes do mundo antigo, encontramos ressonâncias: na Mesopotâmia, Inanna (ou Ishtar) era a deusa do amor, da fertilidade e da guerra — um arquétipo que não temia suas sombras. No Egito, Ísis representava o mistério, a regeneração e a maternidade divina. Na tradição hindu, Durga, Kali e Lakshmi manifestam diferentes facetas do poder feminino (Shakti): proteção, transformação e abundância.
Na Índia, apesar de ser uma sociedade patriarcal, a filosofia do tantra oferece uma das expressões mais profundas do sagrado feminino: Shakti, a energia criadora que permeia toda a existência. Shakti não é apenas uma deusa: é o próprio movimento da vida, o fluxo da natureza, a vibração do som, o calor do desejo, a dança da alma.

No tantra, o corpo não é pecaminoso. Ele é um instrumento. Ele é sagrado. O prazer é uma ponte para o divino. A união de Shiva (consciência) e Shakti (energia) simboliza o equilíbrio entre os princípios masculino e feminino — dentro de nós, entre nós e no cosmos.
Ao abordar essas culturas, surge a questão: sociedades matriarcais existiram? Não necessariamente no sentido de uma dominação feminina sobre os homens, mas como estruturas mais horizontais, nas quais o feminino era o eixo simbólico e espiritual da organização social.
A arqueóloga e antropóloga lituano-americana Marija Gimbutas (1921–1994), reconhecida por suas amplas pesquisas sobre o tema, propôs que muitas culturas pré-históricas europeias eram guiadas por uma cosmologia centrada na Deusa, em que prevaleciam o equilíbrio entre os gêneros e o respeito aos ciclos da natureza. O patriarcado, com suas estruturas de poder verticalizadas, surgiria mais tarde, juntamente com o culto à guerra e à posse.
Nessas sociedades antigas, o poder simbólico e social estava centrado na figura feminina, mas isso não significava, necessariamente, que as mulheres dominassem os homens. A vida nessas comunidades estava enraizada na agricultura e no artesanato, com foco na fertilidade da terra e na abundância, e havia poucas evidências de violência ou de guerras. O culto ao feminino estava no centro da vida espiritual e cultural, e a principal divindade era a Grande Mãe, símbolo da terra, da fertilidade e do ciclo da vida. A iconografia dessas culturas era rica em símbolos, como pequenas figuras femininas arredondadas representando fecundidade e continuidade, além de motivos de serpentes, espirais, pássaros, abelhas pingando mel e touros que carregavam seus chifres como luas crescentes sobre a cabeça, refletindo o renascimento, a eternidade e a interconexão entre vida e morte.
A chegada das tribos indo-europeias das estepes da Ásia Central, por volta de 3000 a.C., trouxe mudanças profundas para essas sociedades. Segundo Gimbutas, esses povos eram nômades, guerreiros e hierárquicos, promovendo um modelo patriarcal que substituiu as antigas estruturas sociais e espirituais. A figura da Deusa foi então relegada a papéis menores ou mesmo demonizada, enquanto divindades masculinas associadas ao poder e à guerra passaram a dominar o panteão. Essa transição também levou à fragmentação do arquétipo feminino, agora dividido entre a virgem pura e a mulher vulgar sedutora, rompendo a unidade simbólica que outrora abraçava a mulher como criadora e nutridora.
O retorno da Deusa não é uma batalha contra o masculino. É um convite à integração. Shiva e Shakti, céu e Terra, razão e intuição — precisam dançar juntos. Ao olharmos para trás e resgatarmos os símbolos, rituais e valores das culturas que celebravam o feminino, abrimos espaço para um presente mais integrado e um futuro mais compassivo.
Que essa memória desperte em nós não apenas conhecimento, mas experiência. Que o corpo volte a ser templo, e que a alma recupere sua fertilidade.
Tiffani Gyatso, Maio 2025
Fotos: Art Trip CARAVANSA Anatolia, Abril 2025

























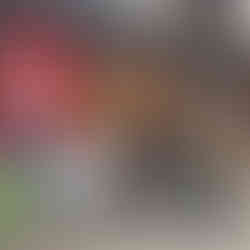










































Comentários